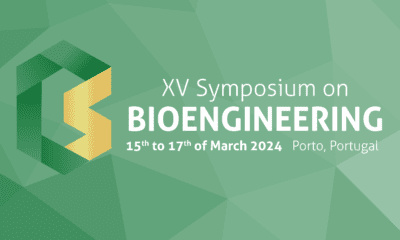Artigo de Opinião
PARADOXO DE FERMI

À realidade da vida alienígena nos ser ignota contrapõe-se a alta probabilidade – ou certeza, supondo a infinitude do universo – da sua existência. Talvez não se trate daqueles seres esverdeados e bifucardos patenteados pela ficção moderna, nem de moluscos retirados da narrativas lovecraftianas; basta-nos, a nós predadores inventivos, a mais simples composição orgânica que possamos indefetivelmente chamar de vida. Por enquanto, ainda não a desvendamos para além do nosso ecossistema terreno, nem temos qualquer indicação empírica da sua existência galáctica. A esta contradição, dada a possibilidade considerável de astros com condições similares ao nosso e, portanto, favoráveis à vida, inclusive à inteligente e civilizada, se denomina o Paradoxo de Fermi. Simplesmente, questiona-se o porquê da nossa aparente solidão: porque nunca contactamos com nada, nem nada nos contactou.
De todas as respostas cogitadas, distendendo-se desde conspirações acerca da presença de extraterrestres (embustes governamentais, sociedades arremetidas na dissimulação… todos esses ensaios lunáticos do mundo virtual) até críticas à própria epistemologia do Paradoxo, nenhuma tese deixa de ser tão intrigante como a que advoga que toda a vida inteligente acabará por se autodestruir. Esta noção de um fim do mundo, de uma escatologia invencível, de um destino último e imóvel que planeia sobre toda a vida inteligente, esvoaçando não tão distinto como o fazem os abutres, é um exercício cognitivo e historicista que necessita de ser debatido nos tempos que correm – especialmente quando aspetos como as alterações climáticas, a sustentabilidade, o esgotamento dos recursos naturais e a exaustão do próprio terreno que sempre nos foi tenro e mimoso meigamente têm a sua meiose no inconsciente coletivo da humanidade.
Mas seria uma afronta à natureza das coisas, aos instintos mais básicos que constituem o mínimo múltiplo comum de qualquer ser – o instinto de sobrevivência, instigador da ação e do poder de vontade -, alegar que toda uma espécie possa deliberar o seu próprio suicídio. Não se pode conceber que a vida inteligente opte por remar a montante, quando as advertências sábias da Natureza capitaneiam um rumo antagónico. Esse misantropismo de nefelibatas, apócrifo segundo as leis inamovíveis da Natureza, não acolhe.
Assim sendo, teremos que concluir que qualquer cataclismo ateado pela raça humana só poderá ser um culminar sofocliano (de Sófocles, portanto) da sua negligência coletiva e leviana; não de uma concreta vontade – por analogia, excluímos ab initio da temática, pela sua caricatura, qualquer vilania que planeie e execute a destruição da humanidade. Conveniente ao nosso propósito, a astúcia do leitor encontrará lautos exemplos dessas feições negligentes nos dias que correm, admitindo – se for humilde o suficiente – a sua cumplicidade; inócua, de certo, mas existente e a respirar. Não pretendemos fazer a sinopse de uma verdade inconveniente, nem aderir ao fértil e abonado discurso do apocalipse, como por vezes é uso dos nossos senhores políticos, uns, quiçá!, sedentos pela atenção, outros almejando tributos para as suas fundações. Não acreditamos que os céus cairão em toda a sua pujança joviana e tonitruante sobre as casas dos inocentes, nem que as ondas do mar sugarão de uma só vaga o alcatrão das nossas cidades. Distanciamo-nos desse masoquismo exibicionista.
Igualmente, não conjeturamos como um único ato isolado impeliria a eventual extinção da vida humana (de novo, não entraremos no domínio da cinematografia). O que propomos, modesta e sobriamente, será que a nossa conduta global paulatinamente contribuirá para um futuro infrutífero, gerando danos irreparáveis que, ao longo dos anos, emergirão à superfície, no mesmo manequim de todo aquele pó que, ocultado debaixo do tapete em vez de limpo, cria uma precipitação sobre a qual tombamos. Agora inquiramos: de onde provém tal pó? De certa forma, à questão já silenciosamente demos resposta: a pegada da poluição, o lixo que despejamos à água, lagos esbeltos degradando-se em pântanos, a depleção dos recursos que furta do solo a sua riqueza, todo o plástico com que mortificamos o ecossistema… os exemplos desvendam-se um a um – assim chegam as reprimendas dos nossos atos, a justa condenação pelo nosso excesso: a carência artificial que é o luxo!, ou será que nos esquecemos de como o toque dourado de Midas lhe trouxera a fome?
Os hábitos denominados verdes tendem a iludir a boa fé de quem os amavelmente pratica. Senão vejamos: as baterias elétricas, ainda que feitas beatas pelo discurso trovadoresco de Elon Musk, têm como componentes o níquel, o cobalto e o lítio, substâncias que, além de finitas, revelam ser danosas para a saúde humana e para o ambiente aquando da sua extração[1]; por sua vez, também são conhecidos os efeitos negativos das barragens no tocante à preservação das florestas tropicais e no referente aos desvios artificiais do curso da águas dos rios, com os riscos associados[2]; não obstante os provados benefícios ecológicos da energia nuclear, logrando a produção de um vasto montante de energia sem emissão de dióxido de carbono, as chagas dos passados desastres nucleares ainda dominam injustificadamente o discurso político moderno[3]; até aos painéis solares, além de serem um vestígio sociológico de uma classe média economicamente sedimentada, se associam amplos custos ambientais no seu processo de manufatura[4].
Nessa condição, notamos que mesmo um processo de consciencialização geral da sociedade só retardará o processo de desgaste do planeta em vez de o eliminar. Só um encéfalo invisual olvidaria daqueles que erguem as suas fortunas suíças sobre esta tragédia, pensando que uma sala de pânico os refugia da ira da Natureza… Aliás, a contínua expansão demográfica da humanidade, cuja ambrosia moderna consiste no aumento da esperança média da vida e na diminuição das taxas de mortalidade infantil nos países empobrecidos[5], poderá incorrer nos mais sérios desafios à sustentabilidade do futuro.
Porém, a crise não se sumariza nestes termos familiares, já triturados e moídos pela opinião pública, antes alastra-se pela conceptualização da modernidade, e os seus tentáculos viscosos abraçam todos os aspetos do novo milénio e do seu ethos.
Não menos traiçoeiro será advogar que essa Hidra quotidiana se encontra numa relação filial para com a sociedade consumista, ou, quando muito, com o processo de industrialização. Um breve aditamento histórico: o advento do consumismo só fora possível com as inovações no processo produtivo (isto é, a linha de produção) acaudilhadas pelo fordismo no primeiro quartel do século XX[6] – consequentemente, o que se perdeu em precisão, em engenho tradicional e em identidade casuística obteve-se em estandardização e em celeridade[7]. O que outrora era um ofício singular, herdado pelas gerações vindouras, por alquimia fresca se transmutou num outro tijolo na parede; o que se quebrava, facilmente reparava-se e legava-se geracionalmente; hoje, a mais pequena falha na mais minuciosa componente queda na deterioração do aparelho, conluios oligárquicos que redundam na infelicidade de Diderot (pesquise-se isto).
Se as noções de sustentabilidade, de sobrepopulação, de massificação ou de alterações climáticas, tal como os nossos ouvidos escutam, são meros eufemismos usados para encobrir as falácias viscerais da sociedade industrial, a solércia do leitor não o deverá deixar tropeçar nesse campo de minas. Enfim, há uma visão lúgubre que gera dividendos para os seus profetas, uma distopia omnipresente que imortaliza autores e poetas; por fim, no seu canto, emagrecido pela voluptuosidade alheia, eis a realidade.
[1] Cfr. THE GUARDIAN, Nickel mining: the hidden enviromental costs of electric cars e Tesla’s new batteries may be harder on the environment than you think, e, apresentando soluções ecológicas para a extração de lítio, GREEN TECH MEDIA, Lithium-Ion Battery Production Is Surging, but at What Cost?. Quanto às condições laboralmente dúbias da extração do cobalto, especialmente no Congo, cfr. THE WASHIGTON POST, The cobalt pipeline.
[2] Cfr. FORBES, Is Renewable Energy Really Green?, e THE GUARDIAN, The hydropower paradox: is this energy as clean as it seems?. Segundo INTERNATIONAL RIVERS, Enviromental Impacts of Dams, «large dams have led to the extinction of many fish and other aquatic species, the disappearance of birds in floodplains, huge losses of forest, wetland and farmland, erosion of coastal deltas, and many other unmitigable impacts».
[3] Cfr. THE NEW YORK TIMES, Enviromentalists and Nuclear Power? It’s Complicated, THE INDEPENDENT, Nuclear power is the greenest option, say top scientists, e HUFFINGTON POST, Nuclear Power – The Solution to Future Energy and Climate Challenges?.
[4] Cfr. NATIONAL GEOGRAPHIC, How Green Are Those Solar Panels, Really?, e FORBES, If Solar Panels Are So Clean, Why Do They Produce So Much Toxic Waste?.
[5] Países e regiões a que se associam taxas de natalidade altíssimas. Conjugados estes fatores supramencionados,1 assistir-se-á a uma explosão populacional destas nações nos próximos decénios. Segundo as NAÇÕES UNIDAS, World Population Prospects: The 2017 Revision, «Between 2017 and 2050, the populations of 26 African countries are projected to expand to at least double their current size».
[6] Cfr. VISION, Manufacturing a Consumer Culture.
[7] Idem, «As recently as 150 years ago, people in the mostly rural communities of the world lived lives governed by the seasons, produced most of what they needed, and stayed in their communities for a lifetime. They valued stability, thriftiness and family. Handmade goods were passed down through the generations; items that were purchased, such as cloth or tools, were cared for, repaired, repurposed». Por outro lado, «The jump in productivity with the new technology was remarkable. In 1909 14,000 cars were turned out at Ford’s old Piquette Avenue factory in Detroit. By 1914, using the assembly line in a newer factory in Highland Park, Ford was producing 248,000»