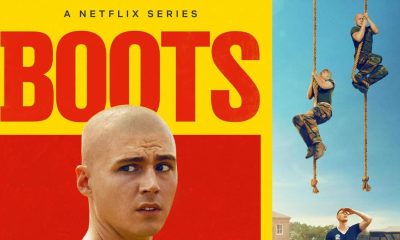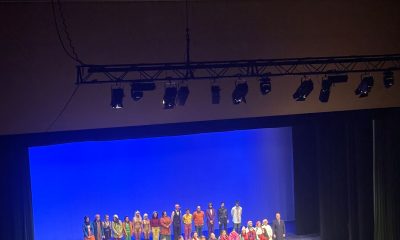Crítica
Jup Baú: Prazer, Camaradas!: O que faz falta é educar a malta

Somos sugados para o imaginário pós-revolução que de cravos foi enfeitada. Portugal, um ano após a canção da liberdade ter calado o regime opressor.
De um lado apresentam-se-nos dois portugueses, do outro quatro estrangeiros oriundos do Norte da Europa. Os portugueses, na sua maioria emigrantes, voltam com o sonho de semear na mátria algum conhecimento e de esbater o obscuranturismo que durante anos revestiu os céus lusitanos. Já os estrangeiros, dirigiam-se com o intuito de trabalhar a terra durante umas férias veranis sob a promessa de abraços, bailaricos e ” demasiado contacto físico” para o que até aí conheciam.
As aldeias do Ribatejo são motivo de encantamento para as senhoras que vêm da Alemanha e da França, mas também de grande espanto. Reparam, desde logo, que as mulheres detinham um papel reduzido às lides domésticas enquanto os homens se sentavam a comer aquilo que lhes era confecionado por sistema. A louça da quinta era infindável e eram sempre as mulheres que tratavam de as tornar num brinco, enquanto os homens se serviam delas a um ritmo estonteante, uma e outra vez. Este cenário distanciava-se do Norte da Europa, já evoluído em questões de género.
De todo o modo, eram as mulheres que detinham, também, uma posição de chefia no que toca à organização das tarefas na quinta, sendo verdadeiras matriarcas que aceitavam aquela realidade porque não conheciam outra.
Entre uma sociedade altamente polarizada, onde a vontade do homem era “quem mais ordena”, observamos, também, que o papel da matriarca era de especial relevo no que toca à condução da vida no campo.
O choque cultural está presente durante o desenrolar de toda a trama de uma forma cómica e natural, bem como a tentativa de amenizar as injustiças a que iam assistindo. O estrangeiro não era visto com curiosidade ou interesse, contava simplesmente como mais um par de mãos para trabalhar.
Através da construção semidocumental à le Bertolt Brecht, fica clara a sátira ao Estado Novo, numa época em que a vontade de mudança se ia alastrando pelos corpos embora esta ainda encontrasse resistência na tradição que se fazia já longa e empedernida. Num Portugal rural e esquecido, várias vozes se cruzam e entendemos que há muito de nós nesta forma de estar, de ser. O ano de 1975 foi apenas ontem e ser gente é perceber que somos fragmentos de os dias todos que o antecederam.
- Prazer, Camaradas! (2019), de José Filipe Costa
A naturalidade dos intervenientes da história – carregada de memórias de quem a viveu – é a chave para o assegurado deleite de “Prazer, Camaradas!”, mas aliado a isso uma fotografia belíssima, certeira e inolvidável; um modo de retratar um tempo de forma inovadora e um fado apregoado à existência de um povo, que ainda reside em nós.
A Revolução começa no momento em que o país, antes fechado para o mundo, abre as suas fronteiras e conta uma história só sua. Quem chegava às aldeias solares de gente simples, queria capacitar, educar e auxiliar as pessoas a ter uma qualidade de vida mais digna. Mas, na verdade, eram os portugueses quem tinha algo a dizer e ensinar: é assim que a vida nos foi apresentada, muito do que dela colhemos é um fardo, mas há também as romarias, os saraus, os bailaricos e os filhos a crescer.
Os encontros e partilhas numa aldeia da Azambuja são o pano de fundo para o filme realizado por José Filipe Costa, o qual deu sopro às memórias do diário de Eduarda Rosa e José Rabaça.
É caso para dizer, de peito cheio de orgulho: O prazer foi meu, Camarada!
Artigo da autoria de Márcia Branco