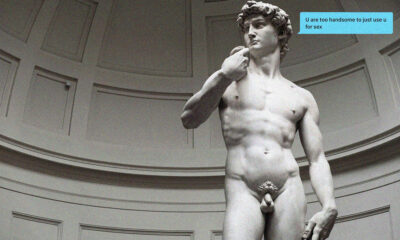Cultura
De boas intenções está o ministério cheio. Entrevista a Luís Ferreira

O TV Fest foi uma iniciativa do Ministério da Cultura, orçamentada em um milhão de euros. O programa pressupunha que alguns músicos convidassem outros, criando uma corrente de espetáculos, que seriam transmitidos, na RTP, em meados de abril. Porém, uma petição com mais de 18 mil assinaturas levou ao cancelamento do evento e à “crucificação em praça pública” dos artistas selecionados. Mas, num momento como aquele, não seria a ajuda melhor do que nada?
LF: Acho que não. Há uma grande diferença entre apoio social e caridade, e o TV Fest era um projeto caridoso em que limpávamos as mãos a vários tipos de responsabilidades, o que tornava o projeto muito errado. Há, contudo, uma diferença muito grande que é entre o projeto ser errado e as pessoas que aceitaram o projeto estarem erradas.
Não cabe ao Estado programar e não faz sentido estar a pedir, numa lógica de apoio estatal, compensações aos artistas para o que estão a fazer.
O importante era ter havido um apoio de emergência para a cultura, para compensar aquilo que as pessoas perderam e estão a perder – não por não terem público, qualidade ou interesse, mas porque houve leis do Estado que impediram que aquelas pessoas pudessem trabalhar. E estamos a falar de pessoas da cultura, da arte, do entretenimento, da restauração, do turismo e de uma série de dinâmicas que estão, e estiveram, a ser prejudicadas, algumas a 100%, e que agora vão trazer à tona outra crise muito grave, que é a crise económica.
Depois da revolta dos educadores em Serralves e dos assistentes de sala na Casa da Música, Graça Fonseca respondeu que a forte precariedade vivida nos meses da pandemia derivou do que não foi resolvido em 20 anos. É necessário mais do que capital para acabar com a precariedade no setor?
LF: A ministra tem razão, mas está no lugar certo para o inverter. Nesta fase, há uma pressão enorme da sociedade para que os eventos culturais não aconteçam, porque as pessoas confundem a necessidade da cultura com a vaidade e a festa. E não percebem o que é o trabalho cultural e a urgência desse trabalho hoje, até para manter a saúde mental de todos. Logicamente, os políticos só vão apoiar a cultura quando as pessoas a valorizarem. Ou seja, quando for importante para elas. Por isso é que ainda não conseguimos ter, como temos na saúde e na educação, um Plano Nacional da Cultura.
No dia 1 de junho, no programa da RTP “Prós e Contras”, precisamente sobre a reativação do setor, a classe artística foi retratada como desorganizada, subsídio-dependente e sem voz coletiva. É o sindicalismo a única resposta no momento?
LF: Não é, mas é muito importante. Por questões às vezes utópicas e românticas, os artistas não se veem como trabalhadores. E, ao não se verem, as pessoas também não veem. Aquele discurso de “eu não trabalho porque faço aquilo que amo, e como faço aquilo que amo, não trabalho” é muito perigoso. Porque isto é trabalho, dá trabalho e requer condições.
Na cultura não há só artistas: há técnicos, engenheiros, mediadores, comunicadores, produtores, assistentes, entre outros. Existe um sem-número de trabalhos diretos e de trabalhos indiretos que vivem e que alimentam uma economia. Por isso, é muito importante que haja sindicatos que organizam e que criam regras e normas e voz para o trabalho.
O que aconteceu no Prós e Contras foi miserável, e enquanto estação pública têm obrigação de fazer algo muito melhor que isso, mas só foi miserável porque nós nos temos omitido e fugido a essa exposição pública e a essa defesa do nosso trabalho.
Não é preciso um sindicato, mas vários sindicatos e associações, pois há vários olhares complementares e com necessidades muito diferentes no tecido cultural em Portugal.
Numa altura em que se vive uma “desconfinamento-fobia”, como foi a transição do 23 Milhas virtual para os eventos físicos?
LF: A transição foi dura, e houve muita auscultação de várias partes, nomeadamente da equipa, que na dimensão digital esteve sempre bastante oleada. Depois, houve o trabalho em parceria com a proteção civil do município, com a delegada de saúde, com a GNR e com os bombeiros.
Por exemplo, fizemos parte do festival “Regresso ao Futuro”, que correu bastante bem. E estamos a ter o “Cais à Noite”, porque também foi possível – bastou mudarmos de sala e mudarmos de regras. Aquilo que era um espaço mais eletrónico e dançável, deixou de ser. Mas o público tem vindo e tem estado muito consciente e colaborativo quanto às regras de entrada e saída, de higienização, e de distanciamento.
As pessoas sabem que, por estarem ali, estão a beneficiar de um lugar de exceção, neste momento, e, também para sua proteção, cumprem as regras.
O Festival “Rádio Faneca” foi um processo também muito duro, porque tem o preconceito do nome “festival” e foi o nosso primeiro ao ar livre. Mas conseguimos. Conseguimos injetar dinheiro no tecido cultural local e nacional, sem a Câmara o resgatar para si e mantiveram-se compromissos, o que é muito importante.
Foi um processo interdisciplinar, de modéstia, de partilha de conhecimento e de perceber o que estamos aqui realmente a viver. Mas ao mesmo tempo de coragem. Nós não vamos ceder ao populismo nem a esta histeria. Se as regras permitem, se é possível fazer, se as entidades competentes dizem “façam”, e se fazer ao ar livre é duzentas vezes mais seguro que fazer no interior, nós, como estruturas públicas, temos obrigação de dar esse exemplo.
Temos de mostrar que é possível, que é necessário, e que é urgente adaptarmo-nos, em segurança, às novas contingências em que vivemos. Não dá para adiarmos eternamente a nossa vida à espera de uma vacina.
Senão, estamos a criar e a ser cúmplices de uma crise medonha. E não falo só de uma crise económica, mas de sanidade, de valores e de relações que depois terá efeitos muito graves no futuro.
Quais as perspetivas para os tempos que se avizinham?
LF: O cenário é mau. Estes meses de paragem implicaram uma transformação brutal nos próximos dois anos. 2020 e 2021 estão muito reféns disto tudo: da incerteza, da crise económica, das lotações, dos reagendamentos e da sobreposição de evento. Ainda por cima é um ano de eleições autárquicas, portanto vai haver aqui uma esquizofrenia de várias vozes contrárias. Além disso, desconfinar é muito mais difícil que confinar. No confinar, as regras eram muito claras e equitativas para todos. No desconfinar há vários ritmos e várias perceções do que é prioritário e não é prioritário. E depois há muito moralismo à mistura. E numa área que é culpabilizada, que não se percebe qual é que é o seu papel, vai ser particularmente complicado, e vamos ser alvo de muita demagogia.
O que podem os cidadãos, e em específicos os estudantes universitários fazer pela cultura em Portugal?
LF: Os universitários, que são o futuro, têm de trabalhar mais ajustados a isto. Eu acho que as universidades estão muito de costas voltadas à cultura. Raros são os casos que ainda têm projetos ou núcleos culturais como o Teatro Universitário ou espaços de prática cultural efetiva. E também é muito importante repensar qual é o papel das associações estudantis e de que forma estão relacionadas com o pensamento político e o pensamento artístico e cultural.
Os jovens, mesmo não sendo artistas, têm de dançar, de cantar, de fazer teatro, de ter acesso a poesia, informação visual para que se consigam repensar as nossas cidades.
Se pensarmos bem, as universidades são lugares de pensamento e de futuro e procuram adivinhar soluções e caminhos para os atuais e futuros problemas. Não tem lógica ter associações de um ano, que querem é ter a melhor semana académica e a melhor semana do caloiro e trazer DJs, copos e álcool. Isso pode existir, não sou agora um velho moralista, mas não se pode esgotar a ação estudantil nisso. Tem de haver uma criação de cidadãos e isso é uma obrigação das instituições e das universidades, não só através da suas as reitorias, mas também das associações que representam os estudantes.
Esta entrevista foi realizada a 15 de julho de 2020