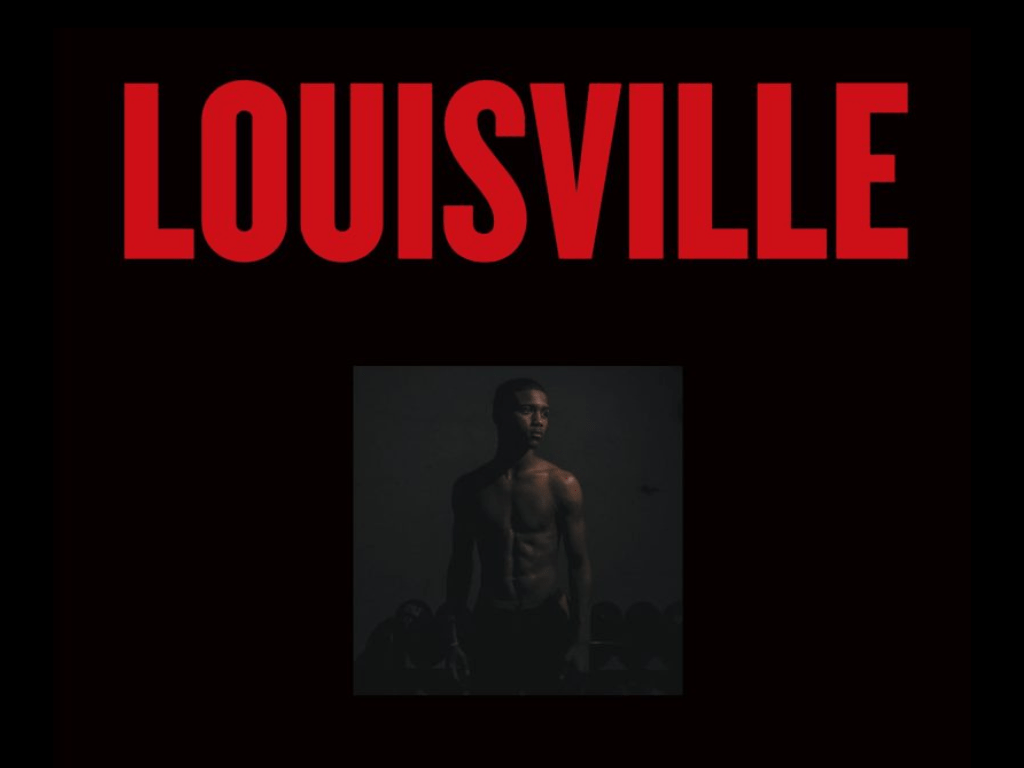Crónica
Tougher Than the Rest (ou a extraordinária ignorância Americana)

Do isolamento social esperava muita coisa. Instabilidade emocional, falta de concentração, passar o dia inteiro de pijama. Mas nada disso tem acontecido. Até calças, de fato de treino reconheço, tenho vestido repleto de orgulho. Só não esperava as insónias que, aparte o agravamento do meu já de si caótico horário de sono, têm levado a debates interessantíssimos entre o teto do meu quarto e a minha almofada. Moderadas, claro está, pela cabeça entre os dois.
Ontem aceitei, como de costume, as sugestões musicais que o algoritmo Spotify me lançava. Acabei com Bruce Springsteen, reconvertido do digital para o analógico, a oscilar nas membranas dos meus auscultadores. E, de música em música, compreendi melhor a imagem que tinha visto horas antes e que demonstrava a densidade absurda de aviões que ainda sobrevoavam os Estados Unidos da América.
O problema americano não se centra única e exclusivamente na estupidez das ações do seu Presidente. Essas ações são reflexo de um problema estrutural na corrente de pensamento que se enraizou no conceito da nacionalidade de um país que não a tinha. Um país, à luz da velhice europeia ou da eternidade asiática, relativamente recente. Um país que se permitiu atribuir, não há muito tempo, o título de “The Greatest Country in the World”. E todo o mundo (o Ocidental, pelo menos) perante o poderio económico e militar que se manifestava, aceitou sem grandes dúvidas.
O complexo Titanitesco (permitam-me que cunhe aqui este adjetivo) tem sempre a mesma conclusão. Por muito grandes e imparáveis que os novos Aquiles pareçam, Tétis ter-se-á sempre esquecido de mergulhar um dos seus calcanhares no Estige. Mas Aquiles não sabe. E os americanos parecem teimar em viver nas palavras de Springsteen, “Honey, I’m tougher than the rest”.
Um estoicismo levado ao extremo, doentio até, sem qualquer clareza de pensamento. A negação de todos os estímulos, a indiferença. A crença que suportar a dor é uma tarefa pessoal e que leva unicamente ao crescimento pessoal. Wright disse-o melhor que ninguém, inspirado quase de certeza em Steinbeck, que os americanos se veem como milionários envergonhados e não como vítimas de exploração de um sistema desequilibrado. O Sonho Americano, é preciso estar a dormir para acreditar nele.
A insistência do povo americano no Sonho é simples. Os Estados Unidos gozaram o seu melhor período devido a este modelo. Em primeiro lugar, devido à competição contra a União Soviética na Guerra Fria. Autêntica impulsionadora da inovação, mas também da máquina económica americana. E que conseguiu, ao dar um rosto ao inimigo do Estado, juntar todo um país eternamente fraturado por graves desequilíbrios internos através do medo. O medo de que o Comunismo um dia lhes caísse, vindo do céu certamente, em cima da cabeça.
Em segundo lugar, já estando a dita guerra definitivamente arrefecida, a competição interna. A crença que nada pode ser obtido de mão-beijada impulsionou, acima de tudo, as gigantes tecnológicas. Impérios surgidos de linhas de código ergueram-se. Parecia valer tudo. Traição, especulação, roubo. Não se pode confiar em ninguém, a não ser em si próprio. O caminho é difícil e sinuoso, mas deve ser suportado, tudo em nome da fortuna e da glória pessoal.
Os Estados Unidos da América deixaram definitivamente de olhar para fora. Deixaram de acreditar que havia algo melhor do outro lado. Deixaram-se cair, vítimas da ignorância, no seu próprio movimento cíclico. As grandes empresas sentam-se no trono e aglomeram tudo, o máximo a que se pode almejar agora é ser absorvido por uma das gigantes: Disney, Apple, Microsoft, Coca-Cola.
Na Europa, as preocupações sociais foram contagiando, pouco a pouco, grande parte do espectro político. A implementação de diversos Serviços Nacionais de Saúde e o sucesso que gozaram nas melhorias da condição de vida das populações permitiu que fossem tomados no seio da União Europeia como algo inalienável.
E mesmo assim colapsam hospitais em Itália, em Espanha, em França. Imagine-se se fosse cada um por si, se dependêssemos unicamente da profundidade da nossa bolsa ou da boa-vontade do nosso empregador para sermos tratados. Imaginem que nos deixavam morrer por não podermos pagar o tratamento. A pena de morte aplicada sem direito sequer a julgamento.
Imaginem, sei que parece difícil, que há um país que aceita isto como natural. Cuja população teima em ter orgulho nesta ideia que só os mais fortes sobrevivem, sem ter em conta que, quase todos eles, são os mais fracos. Os Estados Unidos são já o país com mais casos confirmados. As medidas inconscientes de Trump, pressionado não só pela falta de noção mas também pelo monstro da economia que não pode parar, encontram paralelo apenas em Bolsonaro.
Não fomos só nós que fomos contagiados pelo romanticismo de House, Grey’s Anatomy ou ER durante anos. Olhamos para Itália e a realidade não é aquela com que sonhávamos. A morte é feia e suja. Não há tempo para dor nem lágrimas. Não há tempo para as conversas dramáticas entre médicos nem para filosofias em vãos de escada. Simplesmente não há tempo. Resta-nos cumprir o que nos pedem e assistir, impotentes como nunca, à verdade na televisão.
Os números americanos assustam-me. Assustam-me porque ainda olhamos para fora, mesmo quando temos as nossas lutas cá dentro. E vejo que, se nós não estávamos preparados, eles ainda estarão menos. Do país que transformou o profundamente satírico “Born in the U.S.A.” em hino para o 4 de julho espera-se que ganhe consciência. Se não podem ser os seus governantes, que seja o seu povo.
São tempos estranhos os que vivemos. Quem diria que um dia a ignorância seria capaz de matar milhões.