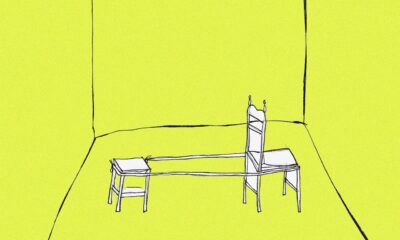Crónica
Elogio a Zafón

Bendito seja o dia em que coloquei o orgulho de parte e aceitei, ainda que a contragosto, a recomendação literária da minha irmã. Do meu primeiro contacto com A Sombra do Vento ficou-me apenas a memória de o começar a ler no sofá da casa dos meus avós. Sapatilhas em cima das almofadas, por muito que o aviso se repita os velhos hábitos são difíceis de ultrapassar. Ao lado, a estante do meu avô de onde surripiei aquela recordação de um Natal passado escolhida meticulosamente pela minha irmã. Como agradecimento pela dádiva, todos os anos perpetuo a tradição, oferecendo-lhe um livro que eu próprio quero ler.
A linha entre a admiração e a inveja é ténue. E eu invejava, com toda a admiração devida, a ausência permanente na memória da recordação de estar a ler os seus livros. De estar embrenhado ao ponto de as vidas que corriam pelo papel se terem diluído na minha. Fui Daniel a caminhar nas Ramblas, fui Fermín, irrepreensivelmente erudito, a enfrentar corajosamente todas as provações que a vida lhe punha à frente. E fui, ao lado de Isabella, aprendiz de romancista com o malogrado David Martin.
Uma das mais belas recordações que tenho da figura de Zafón é a solidariedade para com o escritor amador. Para aquele que aceita, pela primeira vez, umas moedas ou uns elogios a troco de uma história. De emular a vaidade que aflora aos dedos de cada escritor quando as palavras se encaixam, maravilhosamente encadeadas, naquela folha de papel. O complexo do Criador. E a glória de ver, finalmente, o nome impresso naquele pedaço de papel destinado ao mesmo futuro que o seu autor. O esquecimento e o pó.
Há, também, o reverso da moeda. As crises de ideias, os momentos de desespero. O autorreconhecimento da fraude que tentamos vender ao mundo. A vergonha alheia do que plasmamos por palavras no passado. A maldição de querer ser grande e não o conseguir. O processo criativo é sempre curioso. Escrevemos porque precisamos de o fazer. Mas tentamos, a todo o custo, que as nossas necessidades sejam o que o leitor quer. E há um momento marcante, uma escolha que nem sempre temos a consciência que fizemos. O momento a partir do qual passamos a ter um preço, perdendo a exclusividade da própria alma.
De Zafón guardarei sempre o oculto. A sombra. A névoa. Os mistérios. Talvez nunca os venha a dominar com a sua habilidade, capaz de me fazer temer pela vida das personagens, sentindo a taquicardia aguda que também lhes devia estar a acelerar os corações de tinta. A trama, sempre com mais camadas, volte-faces surpreendentes. Sem nunca cair na tentação de revelar demasiado, de ceder ao impulso jovem de acabar. De antecipar as conclusões. De querer tudo agora.
O diálogo, digno de filme, sempre no limite das conversas impossíveis de serem reais como nas películas de Tarantino. Mas humanas, apesar de tudo. Repletas de honestidade. Ganhei à sua custa o hábito de, em momentos de exaltação, assumir traços da capacidade oratória de Fermín, ainda que as filosofias que jorram da ponta da língua não tenham o mesmo encanto (nem sobrevivam tanto tempo antes de caírem no pior dos erros, a repetição).
Zafón não era um escritor perfeito, longe disso. Mas ensinou-me que eu também não tenho de ser. Emancipados da obrigação de superar os outros, resta-nos um único desafio. A eterna luta entre tentarmos ser melhores e aceitarmos quem somos. E tudo o que há para nos guiarmos pela vida são as pessoas que conhecemos. Os filmes que vimos. Os livros que lemos.
E, quiçá, com a sorte dos acasos, se é que eles existem, talvez possam vir a ser as nossas palavras a guiar os outros. Perdoem-me o cliché de existirmos enquanto nos recordam. Mas, sempre que tiver a oportunidade, lá irei eu, eternamente grato à minha irmã (e ao meu avô, o dono da coleção), deitar-me calçado no sofá que fica ao lado da estante com um livro emprestado nas mãos.