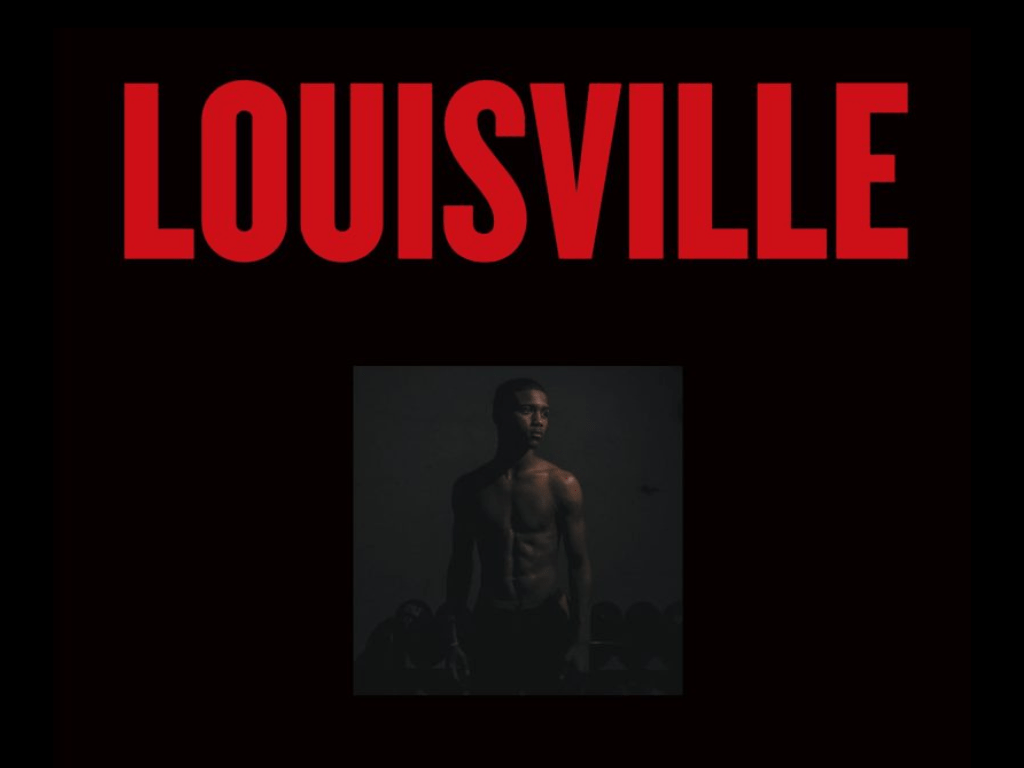Artigo de Opinião
Ciganos: uma história de racismo

Desde que penetrou no território nacional, em meados do século XV, o cigano foi sempre visto como um alvo a abater. Variadíssimas foram as tentativas de lhe expurgar os costumes, a língua, a livre vida do seu nomadismo, que sempre foi resposta a uma perseguição generalizada por parte das populações e autoridades.
A comunidade cigana, como qualquer outra, é sobretudo mitológica, alimentada por um preconceito que encontra, na História, paralelismos mais ou menos evidentes com o destino de outros povos históricos. Cerca de meio milhão de ciganos pereceu no Holocausto (Porajmos). Ao longo dos séculos, inúmeros foram desterritorializados e reterritorializados, desterrados para o Brasil, instrumentalizados na sua colonização, e demais territórios ultramarinos, devido à resistência que ofereciam face às sucessivas tentativas de assimilação por parte das populações locais.
Pequenos furtos, negociatas de jumentos e outras cavalgaduras, a tradicional associação à cartomancia e leitura da sina, apelidada pela Inquisição de buena dicha, contribuíram para a difusão, na cultura popular portuguesa, de uma imagem indissociável da criminalidade. Em finais do século XVI, ser cigano era punido com pena de morte.
Bastante cedo, corria o ano de 1538, a denominada Lei XXIV das Cortes havia punido os ciganos naturais do Reino, com a ida por dois anos, para cada um dos lugares de África.
A centúria de Quinhentos não iria findar sem antes ganhar forma a lei de 28 de Agosto de 1592, que, além de impor a pena de morte (punição renovada mais uma vez, em 1694) aos ciganos que infringissem as medidas integradoras nela contidas, ou em alternativa, não abandonassem o país num máximo de quatro meses, estipulava que:
“(…) as mulheres dos ciganos que estiverem presos nas galés que estão no porto desta cidade [Lisboa], ou em qualquer outro deste Reino em que estiverem, se sairão dele dentro dos ditos quatro meses, ou se avizinharão no Reino pela maneira acima declarada, deixando o dito hábito e língua dos ciganos: e não o fazendo assim serão publicamente açoitadas com baraço e pregão, e degredadas para sempre para o Brasil (…)” (Costa, 2005)
O curto alcance das iniciativas com vista à sua integração na sociedade portuguesa, levou a que tenham sido sucessivamente usados como arma de arremesso nos meandros políticos, sobretudo naqueles que empregam uma retórica marcadamente populista para reclamar franjas de eleitorado suscetível a um discurso extremado e inflamatório do tecido social português.
A incapacidade de os ciganos operarem, quanto mais sobreviverem, numa sociedade contemporânea que os demoniza resultou na sua exclusão social e económica. Essa exclusão tem ocorrido em parte porque os ciganos criaram, ao longo dos séculos, barreiras protetoras em torno das suas comunidades e cultura como resposta ao racismo que experienciaram, e como parte integrante da sua cultura nómada. (James, 2020)
Em The Harms of Hate for Gypsies and Travellers (2020), Zoë James discorre sobre a cultura de ódio instalada em relação aos ciganos e viajantes irlandeses, sobretudo no Reino Unido, mas que traduz perfeitamente o racismo sistémico presente um pouco por toda a Europa.
A autora evidencia a responsabilidade em que incorrem os media, com particular destaque para a televisão, como instigadora de manifestações públicas de ódio contra os ciganos.
Em 2014, o Estudo Nacional sobre as Comunidades Ciganas estimou que dos indivíduos da etnia cigana inquiridos, 27,1% não sabia ler nem escrever. Dos entrevistados, apenas 2,3% atingiu o Ensino Secundário. No que diz respeito a prestações sociais, 34,8% era beneficiária do Rendimento Social de Inserção. Cerca de 48% admitiu já ter passado fome. No que concerne a habitação, 27,5% vivia em casas rudimentares, como barracas ou tendas. 38,5% relata a insuficiência de transportes públicos na sua zona habitacional.
Este estudo revela-se como uma obra imprescindível para atestar as condições desfavoráveis à integração de comunidades compostas por indivíduos de etnia cigana, mas que são, por vezes, transversais a outras minorias. Quando 29,1% dos entrevistados responde que não procura trabalho porque “ninguém dá trabalho a um cigano”, é sinal mais que evidente que existe racismo sistémico na sociedade portuguesa. A pobreza extrema em que, não raras vezes, alguns agregados se encontram, chega a comportar uma barreira à sua sobrevivência biológica, quanto mais à sua integração. O Rendimento Social de Inserção é, frequentemente, uma prestação pecuniária que, mais do que a integração, visa garantir a sobrevivência de indivíduos reiteradamente flagelados por ciclos de pobreza inquebráveis.
Francisco Gomes da Silva, no 2.º Volume do seu Mysterios da Inquisição (1900), tem uma passagem curiosa a respeito dos ciganos:
“Se não os deixavam trabalhar, como não queriam ser roubados? Se os enxotavam como faziam aos cães, como não queriam que elles mordessem?
E elles viviam alli, nas trevas, amontoados, com frio e fome, se durante muito tempo não podiam agenciar a vida, as mulheres e os filhos! A moral christã prohibia o roubo, mas antes d’isso mandava dar de comer aos famintos e matar a sede aos sequiosos!”
Atormenta-nos o espírito que, volvidos 120 anos, desde a publicação desta obra, a situação das comunidades ciganas pouco ou nada tenha mudado. Incorrem, novamente, numa nova onda de extremismos, que promete, a troco de um punhado de votos, cortar-lhes as amarras que os prendem a terras que são tão ou mais suas do que daqueles que os ostracizam.
Filipe Nunes assina, na Revista Alambique (IV, 2012), um artigo que contraria esta portugalidade tóxica: “O andar de terra em terra não exclui a pertença à terra familiar, pertença que é em muitos casos tão ou mais antiga da pertença do alentejano (vizinho) que não hesita usar das idiotices semânticas da extrema-direita em mandá-los para a terra deles.
Muitos de nós ficámos revoltados com ideias nacionalistas de muros fronteiriços com o México ou com campos de trabalhos forçados e de reeducação das minorias islâmicas na China, mas são poucas as vozes críticas quanto ao tratamento desumano dado, não apenas, mas sobretudo, às comunidades ciganas em território nacional. Frequentemente, ouvi da boca de pessoas assumidamente de esquerda e a favor do progresso social as maiores barbaridades quanto a esta questão. O touro é visto em maior consideração do que o cigano. O cigano é ladrão, vive da economia paralela, do tráfico de droga e armas, destrói a habitação social que lhe é atribuída pelas autarquias. Chega, inclusive, a desmontar elevadores para, de seguida, os vender.
Aquilo que Zoë James nos relata é bem diferente: “Na mesma medida que o seu trabalho tradicional diminuiu, a terra em que tradicionalmente vivia fechou-lhe as portas devido à especulação imobiliária. A sua exclusão social e económica, agravada através de processos de racismo, discriminação e criminalização, levou a que os ciganos ficassem cada vez mais pobres e as suas vidas se definam pela precaridade e insegurança. A sua posição nas margens da sociedade significa que estão a competir por recursos limitados e pelo reconhecimento das suas necessidades humanas com o restante precariado. (…) [estas] pessoas estão a sofrer violência estrutural massiva a partir de cima que os consigna a bairros de exílio.
“Sem trabalho a vida que qualquer pessoa é feita de inúmeros expedientes e esquemas de sobrevivência, que no caso dos ciganos se institucionalizaram. (…) Nesta esfera de empobrecimento ascendente, surge a saída para tráficos à margem da lei, selando o preconceito que já existia. Há, claro, uma economia paralela da droga, assim como crimes violentos, tal como o há entre os «locais», mas ninguém julga o grupo de locais como um todo ou a sua família por inteiro. Depois, mesmo que tal derive de uma equação lógica de pobreza à criminalidade, o perigo de aceitar sem mais esse raciocínio, significa perpetuarmos o estigma de que a cultura de pobreza é criminosa, ou de que qualquer marginal da sociedade – como se assume e é definido aqui o cigano – é “naturalmente” um delinquente, omitindo da questão quem definiu essa equação, quem determinou essas situações, quem determina as condições da economia e as possibilidades da subsistência do dia-a-dia.” (Alambique, IV, 2012)
A par deste confinamento forçado em zonas indesejáveis das cidades e demais localidades, que refletem políticas sociais irresponsáveis, que visaram primeiro a guetização da pobreza em detrimento da resposta a flagelos sociais evidentes, o cigano é vítima de dinâmicas de poder, de vigilância e coação que apenas contribuem para reforçar o seu lugar na margem. James aponta para o policiamento extremo de que são alvo, não apenas por forças de segurança, que estão frequentemente suscetíveis a um extremar ideológico nocivo, mas também através das instituições sociais, educativas ou de saúde, que, ao invés de cumprirem o seu papel, agem como forças policiais, recolhendo e partilhando dados que comprometem estas comunidades.
“Na actualidade, os portugueses da Vidigueira não ficam nem mais ricos nem menos pobres por perseguirem os ciganos que aí vivem. Os bejenses não ficam mais seguros por erguerem um muro à volta de mais um gueto cigano, nem tão pouco os pais e professores que os metem em turmas só para ciganos, ou os tentam enviar para outras escolas. Nem quem os insultam nos supermercados ganha mais ao fim do mês por essa raiva. Mas todos eles certamente sentem-se “mais portugueses, mais patrióticos, mais cultos, mais limpos, mais certos da sua «superioridade» identirária.” (Alambique, IV, 2012)
É, por isso, após um exercício de reflexão, o mais intelectualmente honesto possível, necessário repudiar toda e qualquer narrativa que assente sobre a premissa do “português de bem”, que procura incutir um tom moralizador à pobreza, apontando dedos àqueles que, ano após ano, década após década, têm suportado, estáticos, a inoperância de um Estado que, para camuflar a gestão danosa dos sucessivos governos, nunca se coibiu de a instrumentalizar.
Os ciganos construíram, connosco, nacionalidade. Adolpho Coelho, em Os ciganos de Portugal: com um estudo sobre o calão (1892), evoca os “mais de 250 homens d’essa raça” que “alistados no exercito português, desde a restauração do reino” serviram “nas fronteiras «com zelo e valor com que já foram muito apremeados».” Evoca, ainda, no espírito de Thomé Pinheiro da Veiga, “o caso d’aquelle pobre cigano que serviu a sua pátria adoptiva «três annos contínuos com suas armas e cavallo á sua custa, sem soldo», combatendo até à morte por uma pátria que, 400 anos depois, ainda persegue a sua etnia.
Para finalizar, diz o autor que “esse facto basta para resgatar a raça cigana do opprobio de mais de quatro seculos e para nos fazer pensar em chamar os seus actuaes descendentes, por uma politica mais racional e humana que a dos nossos antepassados, ao convívio da civilisação.” Contudo, e como comprova a franca adesão a uma linha retórica que tem como porta-estandarte o ódio a esta minoria, em abono de uma ideia de nacionalidade baseada na ignorância, não podemos abster-nos de lutar pelo reconhecimento dos ciganos enquanto portugueses, legitimados por um legado de séculos que nem reis conseguiram vergar.
Rafael Jesus