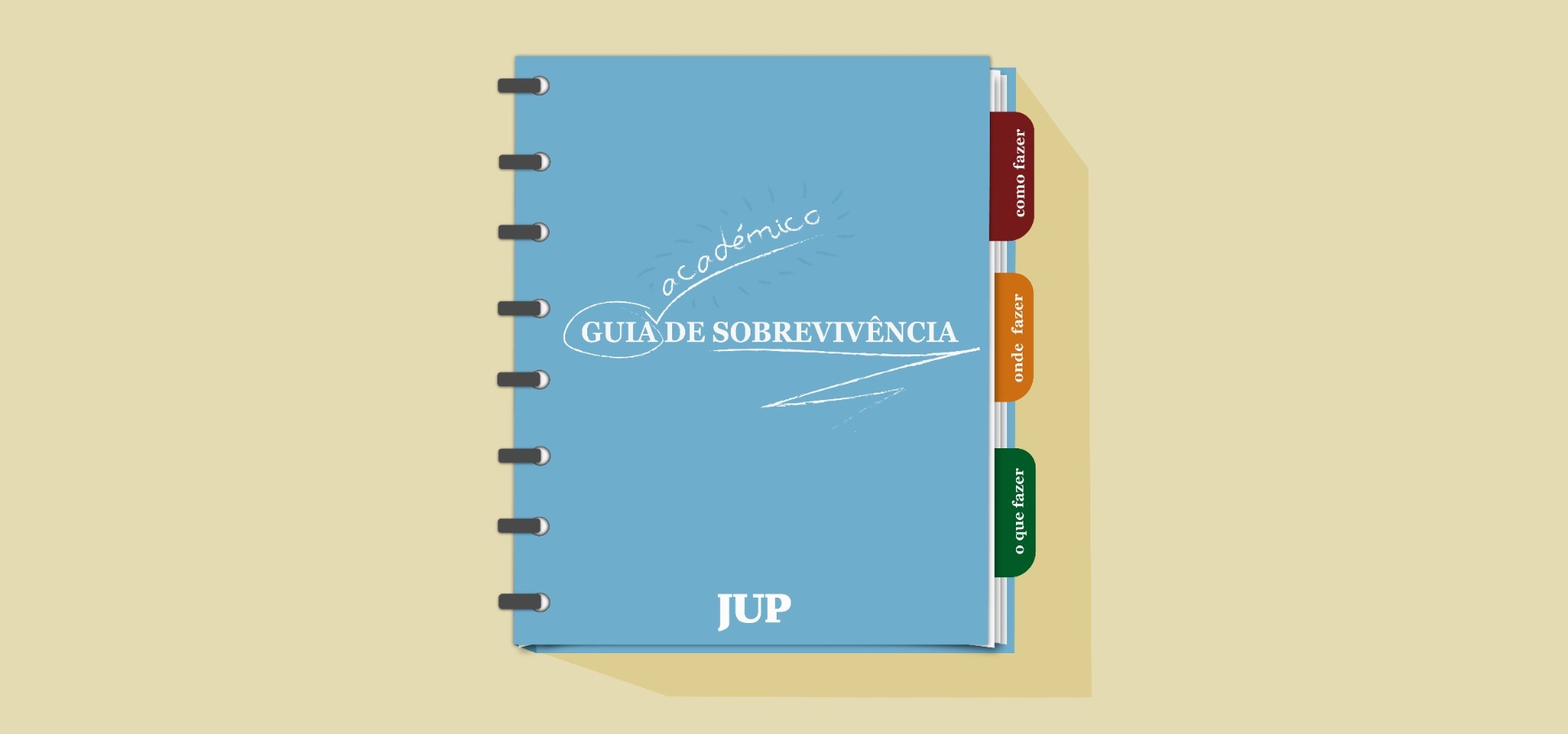Crónica
Agarrem a covid-19 pelo colarinho

Só agora, aos 19 anos, é que li pela primeira vez um livro de Bukowski. Charles Bukowski.
O que aprendi? Aprendi que a vida de um puto não é esta. Não devia ser esta.
Em Pulp, Nick Belane, um detective privado a quem tudo acontece, deambula de bar em bar à procura de respostas (quer dizer, às vezes só quer mesmo beber um copo). A vida de um estudante também devia ser esta. Andar com os amigos, de bar em bar, na mítica Queima das Fitas, à procura de respostas para os recursos a que vai ter de ir, para as indecisões do futuro, para a namorada chateada ou para o telefone com trinta e duas chamadas da mãe.
Se um dia mais tarde, já nós velhos, nos perguntarem como foram os belos anos de faculdade e juventude, não vamos saber responder. Vamos apenas soltar um qualquer vocábulo com vergonha. Passamos estes anos a olhar para um ecrã, a conversar pelo Zoom, a fazer uns exercícios estranhos no quarto e a usar a bicicleta cheia de pó.
Bukowski dizia para nunca sair da cama antes do meio-dia. É essa agora a nossa realidade. Não há autocarros para apanhar, não é preciso procurar um lugar para estacionar o carro. Nem é preciso sequer sair da cama. Basta ligar o computador ou o telemóvel e fingir que ouvimos uma aula que alguém parece dar numa faculdade deserta, sem vida. Não são as paredes, mas os estudantes que erguem uma faculdade (não, esta frase é demasiado filosófica para estar no mesmo texto que o nome de Bukowski, é melhor corrigir).
É impossível ir a uma discoteca, já se tornou até estranho pensar em estar com a barriga e os braços encurralados por centenas de pessoas, a saltar, a gritar, aos beijos, com vómito e manchas de cerveja na camisola, ainda por cima todos sem máscara.
Já não podemos gozar com os caloiros. Nem sabemos quem eles são. Não conhecemos os professores nem os professores nos conhecem a nós (esta última parte já era normal). Parecemos fugitivos de uma prisão ou de uma qualquer ditadura, escondidos por trás de uma câmara que nem ligamos, de um microfone que só se ativa para proferir um leve “presente”. Já não dá pica faltar às aulas para ir para o bar ou simplesmente porque sim, não podemos passar uma vida inteira a obedecer a regras. Mas agora basta carregar num botão. É impossível ir a uma discoteca, já se tornou até estranho pensar em estar com a barriga e os braços encurralados por centenas de pessoas, a saltar, a gritar, aos beijos, com vómito e manchas de cerveja na camisola, ainda por cima todos sem máscara.
Se Belane bebia tanto imagine-se se existisse hoje, atormentado pelos casos diários e pelas mortes assustadoras, sem espaço para ele no hospital em caso de cirrose ou ataque cardíaco.
Agora não, agora não fazemos nada disto, estamos só a tentar existir, de pijama, entre o sofá e o frigorífico. No capítulo 40, umas letras juntas formam a frase: “muitas vezes, os melhores momentos da nossa vida são quando não estamos a fazer nada, apenas a matutar, a ruminar”. Mas eu já estou a não fazer nada, a matutar e a ruminar pelo segundo confinamento seguido. Já chega. Já consigo andar pela casa de olhos fechados. Já sei que o meu vizinho chega todos os dias depois da meia-noite. Já sei que a vizinha do prédio à frente vai fumar os dois maços para a varanda sem falta, mesmo com a chuva torrencial a apagar-lhe o cigarro e a despentear-lhe o cabelo gasto e ralo. E também sei que a vizinha dela teima em não desfazer a árvore de Natal.
Se Nick Belane fosse um jovem nesta altura, estaria num bar de uma qualquer esquina a agarrar a covid-19 pelo colarinho e a exigir-lhe que lhe devolvesse os anos de estudante que estava a deixar para trás, sem a possibilidade de algum dia os reaver. Quem me dera que Belane existisse, para dar a bem merecida carga de porrada que este vírus precisa.
Artigo da autoria de João Paulo Amorim