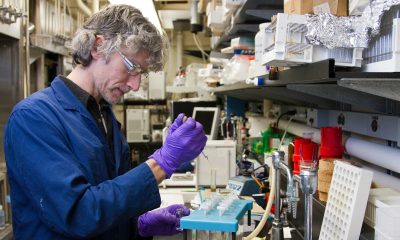Artigo de Opinião
Wes Anderson aproveita pódio para um dos melhores filmes de 2021
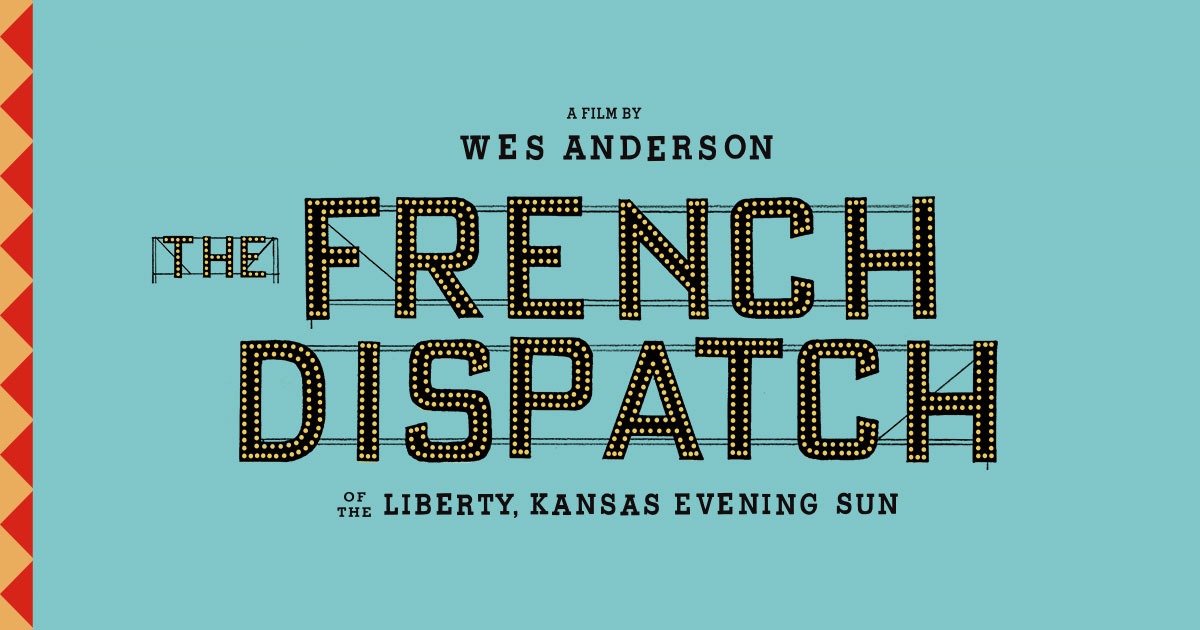
Antes do definhar absoluto de 2021, The French Dispatch por Wes Anderson, ocupou no passado mês de novembro o pódio para um dos melhores filmes do ano. Neste seu novo filme acompanhamos o encerramento de um jornal e, por consequência, os quatro últimos artigos para publicação.
De parecenças editoriais idênticas ao The New Yorker, acompanhamos a estória de um génio pintor em ascensão, a de um universitário que virou símbolo de um movimento revolucionário estudantil e por último (e por muito estranho que possa parecer), um rapto que envolve elementos gastronómicos. No meio destas crónicas, existe ainda um prólogo e um epílogo que nos sussurram um pouco o que é o quotidiano daquela redação, e a realização de um obituário para o já falecido editor, pelas mãos dos jornalistas que lá trabalham. The French Dispatch é, assim, uma sublime e simples ode – uma carta de amor – ao mundo jornalístico e às suas mil e uma metamorfoses, bem como a do imaginário daquele que outrora fora o verdadeiro jornalismo.
Bauman, um dos filósofos da nossa contemporaneidade, afirmou em vida que vivemos numa sociedade líquida, tal como a água, em que tudo muda rapidamente. Tudo é efémero e passageiro, sejam as matérias físicas, relações ou a mera interação humana. Por sua vez, o realizador de The French Dispatch relembra-nos, neste que é o seu recente e bem-sucedido filme, que nem o jornalismo escapou a essa intitulada realidade líquida que o filósofo polaco Bauman nos alertava. Este jornalismo que hoje em dia se faz, este que é um jornalismo para obesos e sedentos do fast journalism, não é, felizmente, o jornalismo retratado pela lente de Anderson.
Não é por acaso que o estilo cinematográfico de Wes é mundialmente reconhecido no mundo da sétima arte. Seja por ironia do destino ou talvez por mera casualidade, o realizador, com formação académica também filosófica, introduz-nos intrinsecamente realidades perdidas do mundo em que hoje vivemos. A típica simetria do percorrer dos movimentos da câmara, as composições dos planos geométricos e as cores hiper-realistas, sejam elas a preto e branco ou vívidas, dão ainda mais vida ao filme. A direção de arte foi primordial neste filme, uma vez que o público fica com a estranha – mas boa – sensação de estar a ver um daqueles típicos filmes de Jaques Tati.
E confesso, adorei a introdução aos elementos animados no clímax das várias narrativas. Acredito que para muitos possa ser algo estranho, mas acaba por ser uma muleta que o realizador introduz no filme, talvez por praticidade na realização das cenas retratadas e para quebrar uma possível monotonia que o público possa estar a sentir, ou simplesmente porque sim e apesar de já consagrado, o realizador continua a querer reinventar-se.
Pode parecer um tanto estranho ou até duvidoso, mas a escolha deste filme para o melhor de 2021 não passa apenas pela atração do realizador ao não comercial, o típico estilo redondo a que Hollywood tanto nos habituou, mas sim pela estória em si – pela oferta de quatro filmes, em paralelo, todos relativos à estória principal. Não está ao alcance de todos fazer algo desta dimensão, com este despreocupado humor. Um detalhe divertido sobre esta obra cinematográfica, foi o facto de Wes ter a genialidade de desenvolver para cada crónica o número de páginas equivalente ao tempo em cena. Simplificando, quantas mais páginas tinha a crónica, mais tempo esta demorava para se desenvolver no filme.
Quanto às atuações, o destaque vai sem dúvida para a Jeffrey Wright e para a química entre Timothée Chalamet – este que esteve excelente como sempre – com a atriz Frances McDormand. Outro duo invulgar, mas que funcionou surpreendentemente, foi a dupla de atores Léa Seydoux e o ator Benicio del Toro. Por fim e apesar de curto tempo em cena, um especial agrado para Elisabeth Moss e o já habitual Tony Revolori.
Voltando ao jornalismo que é retratado neste filme, é triste o facto de o mesmo não mais existir nesta líquida realidade. Este que era um jornalismo dedicado às pessoas, às suas personalidades e aos lugares que as mesmas habitam. Infelizmente, como avalia o sociólogo francês Pierre Bourdiu numa das suas teorizações, os jornalistas e por sua consequência, o jornalismo, estão agora e mais do que nunca ensopados numa “autonomia frágil”. Dependentes de esferas sociais como a da política do país onde se encontram inseridos, a esfera económica e por fim a esfera societal- onde estão inseridos aqueles que apelido de forma irónica como “os obesos sedentos do fast Journalism”, aqueles para os quais o jornalismo atual trabalha, escrevendo de forma frenética 10 ou mais artigos em simultâneo por dia, para saciar assim estas peculiares criaturas.
Possa um dia a sociedade, após uma rotura ou por manifesto jornalístico, chegar ao que hoje não é apreciado e prestigiado pela maioria. Aquele jornalismo que leva tempo, em que os jornalistas desenvolvem as suas peças jornalísticas, com isso podendo dar uma maior atenção a uma história e, a partir daí contar tudo com o maior e ínfimo dos detalhes, quase que de forma pitoresca como nos fora retratado nesta obra de Wes Anderson.
Artigo da autoria de Diogo de Sousa