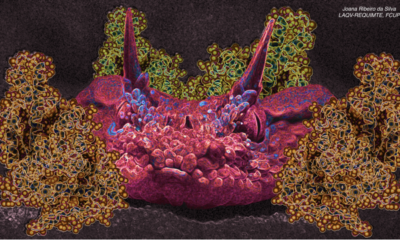Artigo de Opinião
UMA HISTÓRIA DE HABITUAÇÃO AO TERROR

Foram ontem divulgados os nomes dos vencedores dos prémios de fotografia Estação Imagem 2016. “Talibés, escravos contemporâneos” ganhou o prémio de melhor reportagem. O prémio de melhor fotografia foi para “O Mapa dos Refugiados”. Há nisto, desde logo, a evidência de algo maior: há décadas que a fotografia tem como princípio estético mais sedutor a representação do terror.
Não é necessária uma pesquisa profunda para perceber isso. Nos últimos dez anos, o prémio World Press Photo of the Year só não foi entregue a fotografias representadoras de uma grande violência física, emocional e social, em 2010, 2014 e 2015. A estética do terror é inegável. Interessa, portanto, perceber este fenómeno, como surgiu, por que continua e qual o seu futuro.
A verdade é que esta inclinação estética, apesar de mais antiga, acompanha a fotografia desde a sua génese. Já no século XVIII, Edmund Burke referia a impossibilidade de beleza que não contivesse em si mesma algum terror. Se, por um lado, os ideais artísticos do renascimento e do período clássico identificavam-se com uma beleza solar, proporcional e geométrica, identificada com o bem, e, por outro, a representação do horrível na idade média tinha um objetivo mais didático e documental do que estético, só podemos falar verdadeiramente numa arte do terror a partir do século XIX, época em que nasce a fotografia. Temos como exemplo máximo de identificação entre o belo e o horrível Edgar Allan Poe, se bem que numa dimensão fantástica a maior parte das vezes.
A conjugação real, e, por isso, social, entre o belo e o horrível só se dá na América depois de uma influência whitmaniana, já no século XX. De facto, podemos afirmar que a obra de Whitman contribuiu para uma “nivelação” da beleza. A frase “To me, every hour of the day and night is an unspeakably perfect miracle” remete para essa democratização estética: não há imagens mais ou menos valiosas; não há coisas mais merecedoras da nossa atenção do que tudo o resto. Estávamos perante a generalização da beleza.
Esta ideia refletiu-se na fotografia na primeira metade do século XX, com os fotógrafos americanos Walker Evans e Alfred Stieglitz. A “nivelação” moral da arte estava concretizada, e até à inclusão da aberração e do horrível foi um pequeno passo. Este foi dado por Diana Arbus, na década de 60. De certa forma, podemos afirmar que a fotografia dos dias de hoje é descendente direta de Arbus e da sua documentação de aberrações.
A partir desta altura, deu-se a introdução, através dos meios de comunicação social, do terror no quotidiano do mundo ocidental, algo exemplificado pelas imagens de conflitos armados vindas do Vietname, Iraque, Afeganistão ou Síria. Com este fenómeno, com a criação do “televiver” (expressão inteligentemente usada pelo filósofo José Gil) com a miséria humana, a representação artística destes fenómenos passou a comportar, mais do que um choque moral, um choque estético. Hoje em dia, o peso de fotografias, como as de Paul Hansen ou Warren Richardson, vencedoras do prémio World Press Photo of the Year, encontra-se no plano eminentemente artístico, e a realidade da tragédia humana é uma abstração muito longínqua que raramente consegue ultrapassar o delírio estético sentido pelo terror.
Assim, é preciso pensar a arte de hoje em dia, em especial a fotografia e o cinema documental, como uma objetificação da tragédia humana. Isso comporta um grande risco: a nivelação do sentido moral devida à habituação. Urge perguntar: pode o critério estético associar-se ao critério moral? podemos continuar a habituarmo-nos ao terror?